Por Alice Di Biase
Caminhar por uma sala iluminada por refletores fortes, tomada por pessoas que carregam não apenas malas, mas também o cansaço estampado no rosto após longas horas de viagem, sob o olhar atento de agentes que falam em uma língua estranha, pode soar, para muitos, como a encarnação de um pesadelo. Para alguns, no entanto, os motivos da partida superam qualquer medo: a esperança, a felicidade e o alívio tornam-se mais intensos que o cansaço.
Foi assim que Marian Awada se sentiu ao pisar no aeroporto de Viracopos, em 1971. Aos 32 anos, vinda do Líbano com um menino de oito e uma menina de seis, desembarcavam depois de mais de dois dias de viagem e mais de 10 mil quilômetros percorridos. Na mente, só um pensamento: reencontrar o marido que não via há cinco anos. Ele viera antes, com a promessa de conseguir emprego e um teto, e trazer a esposa e os filhos. Cinco décadas mais tarde, já aos 82 anos, Marian ainda se lembra da dor de deixar para trás pais e irmãos para viver em um continente desconhecido, onde sequer entendia o idioma. No Líbano, um país assombrado pela guerra, partir tornou-se quase um rito entre jovens adultos que ainda construíam suas famílias e carreira.
Mais velha de sete irmãos, Marian seguiu para o aeroporto de Beirute acompanhada dos filhos. O pai fez questão de levá-la no trajeto de 80 km que separavam a vida que já conhecia da chance de recomeçar. No caminho, os motivos da partida se escancaravam diante dos olhos: conflitos armados tomavam conta das ruas, e foi preciso improvisar um lenço branco amarrado à cabeça como bandeira de paz para que o táxi que levava a família pudesse passar. Ao chegar ao aeroporto, outro baque: o voo fora cancelado por ameaças de ataques. Na semana seguinte, Marian dormiu na sala de embarque para garantir que conseguiria viajar.
No Brasil, o marido havia comprado um terreno na região do Jardim Ângela, São Paulo. Construiu um sobrado de dois andares, a parte da frente destinada à loja de móveis que era a fonte de renda da família. O idioma foi uma grande barreira no processo de adaptação da família, Marian sentia vergonha por não saber falar português. A barreira linguística literalmente colocou sua vida em risco quando sofreu um assalto à mão armada dentro da sua casa, dois homens a colocaram de joelhos no chão e cobriram seus filhos com um lençol. O homem encapuzado perguntava onde estava a chave do cofre, as palavras soavam apenas como gritos indecifráveis para Marian, seu filho de oito levantou uma fresta do pano e explicou em árabe o que o homem pedia. O primeiro de muitos episódios de assalto que a família sofreu no Brasil, Marian explica que isso foi um choque para ela ao chegar no país, ela conta que no Líbano não existe assalto pois raramente sobra dinheiro e a maioria das famílias não possuem itens de valor.
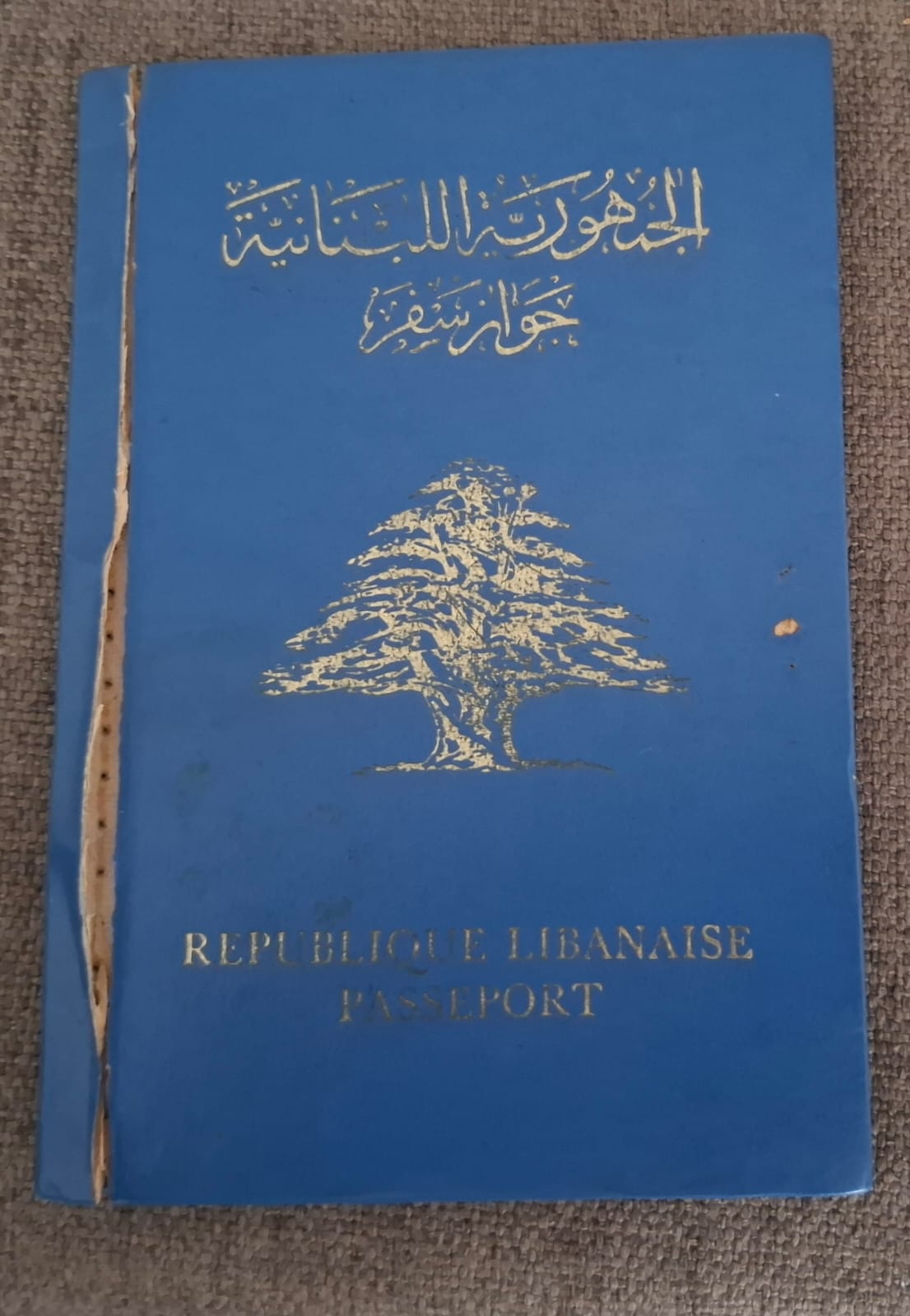
Essas foram apenas algumas das marcas que a família libanesa carregou no processo de adaptação. Mas as perdas não ficaram no passado. Há quatro anos, Marian enfrentou uma dor ainda mais profunda: a morte do marido, vítima da Covid-19. Com o olhar entristecido, recorda que não pôde acompanhá-lo no hospital, nem se despedir em um velório, por causa do risco de contágio. A lembrança traz à tona outras solidões do início da vida no Brasil: levar os filhos ao médico, por exemplo, era uma batalha. Sem conhecer ninguém que falasse português, dependia apenas de si mesma para enfrentar consultas e emergências.
Apesar das dificuldades, Marian guarda também lembranças de acolhimento. Tarefas simples, como pedir fermento no mercado, se tornavam grandes desafios. Mas ela sempre encontrava brasileiros dispostos a ajudar, que anotavam em papéis a forma correta de pronunciar palavras desconhecidas. “Fermento”, lembra com um sorriso.
Passados cinquenta anos vive em Santo Amaro, em um apartamento tipicamente brasileiro. A decoração com retratos de filhos e netos, ao retirar as bebidas árabes do buffet, não revela que ali reside uma mulher que atravessou o oceano há meio século para criar a família longe da guerra. Aos 82 anos, repete, com o sotaque árabe, que nunca a deixou, a gratidão por ter conseguido dar um futuro aos filhos, mesmo em um país tão diferente de sua terra natal. Ela que nunca teve acesso ao ensino básico no Líbano, não era culturalmente aceito que as mulheres estudassem, agradece a Deus mais uma vez por seus quatro filhos serem formados e trabalharem. Fala português, mas não se sente brasileira; os filhos, sim, conta ela, são brasileiros. Marian retornou ao Líbano algumas vezes nos últimos anos, mas não sente falta de morar lá.
O idioma, que para Marian foi a maior dificuldade, para Samuel também não deixou de ser um desafio. Porém, meio século separa as suas chegadas e a experiência foi outra. Natural de Gana, Samuel vive no Brasil há quase 15 anos. Mesmo sem falar português, encontrou no inglês — seu idioma nativo — uma ponte para o sustento e teve a tecnologia como aliada na adaptação ao cotidiano. Quando desembarcou, não fazia ideia do que era um CPF. A burocracia parecia um labirinto, mas a boa vontade das pessoas o guiava.
A simpatia e hospitalidade foram inclusive um choque para o ganês. Ele conta que na sua cultura abraços são demonstrações muito poderosas de afeto, dados apenas em situações especiais, já no Brasil, o abraçavam sem motivo aparente e isso o deixou muito confuso, principalmente com pessoas que não tinha intimidade, como em sala de aula. Samuel é formado em Educação pela Universidade de Cape Coast, em Gana e já deu aulas de inglês em Gana, Tailândia e Brasil. Em inglês, Samuel explica que não sente confiança em ter uma conversa profunda em português, por evitar ao máximo o uso do idioma em sala de aula, acaba utilizando-o apenas em situações cotidianas e com o apoio do tradutor online.
Ao chegar no Brasil, encontrou dificuldades em encontrar um emprego estável. Apesar da licenciatura em Educação e da experiência como professor em três países, o primeiro emprego de Samuel no Brasil foi como garçom em um restaurante no Tatuapé, onde foi maltratado pela gerência. Foi um período difícil porque sabia que tinha formação e experiência, mas não conseguia exercer sua profissão, relata.
A trajetória de Samuel dialoga com a de muitos migrantes. Uma pesquisa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, realizada em 2019, apontava que cerca de 34,4% dos refugiados no Brasil possuíam ensino superior, com um percentual ainda maior de entrevistados possuindo qualificação acadêmica elevada. Mesmo assim, muitos ainda presumem que refugiados ou imigrantes são pobres e sem estudo, um estereótipo prejudicial do qual alguns empregadores acabam se aproveitando.
Em meio à frustração de não conseguir um emprego estável e às incertezas da formalização de sua migração, Samuel encontrou uma saída no acaso. Um conhecido lhe indicou o Instituto de Reintegração do Refugiado — Adus. Foi lá que recebeu aulas de português, conseguiu se orientar com a papelada e, sobretudo, descobriu um projeto que mudaria seu caminho. Tornou-se um dos fundadores do projeto “Nós, o Mundo”, em que refugiados ensinam idiomas para grandes empresas. Ali, reencontrou a sala de aula, seu espaço de pertencimento, onde atua há mais de seis anos.

Embora Samuel não se considere um refugiado — já que Gana não enfrentava guerra ou crises políticas quando decidiu sair — sua trajetória foi marcada por perdas pessoais profundas. Perdeu o pai quando tinha sete anos e a mãe logo após terminar o ensino médio. A vida ficou muito difícil para ele e para os irmãos, e viajar para fora acabou sendo uma forma de terapia, que o ajudava a manter o foco e a se lembrar de que era sua própria fonte de esperança.
O que muda de uma geração para outra não é a dureza do processo, mas a forma como ela se manifesta: para ela, o silêncio diante de uma língua indecifrável; para ele, a desconfiança de estereótipos que reduzem sua trajetória e apagam sua experiência. Entre distâncias tão diferentes, o que se repete é a ausência de políticas públicas capazes de tornar essa travessia menos solitária. A Adus atua para reposicionar migrantes no mercado de trabalho, mas, como ressalta o coordenador Henrique Amôedo, essa é apenas uma parte do desafio. Ainda faltam caminhos que ampliem a aceitação das diferenças culturais, tanto por parte do país que recebe, quanto dos próprios refugiados que precisam se adequar a uma nova realidade.
